Recensão da obra One-dimensional man de Herbert Marcuse: MARCUSE, Herbert (2002 [1964]) – One-dimensional man. London: Routledge. ISBN 0-415-28977-7. p.3-86
II Capítulo
No segundo capítulo da sua obra, Marcuse vai debruçar-se sobre o “fechamento do universo político”. Este fechamento é sintetizado na «(...) possibilidade de pacificação nos campos dos ganhos técnicos e intelectuais. Aí, a sociedade industrial moderna fecha-se a si mesma contra a alternativa» (Marcuse, idem, p.21). Paul Mattick, num ensaio de crítica a Marcuse, descreve as teses daquele como «(...) o suposto sucesso do sistema capitalista em canalizar os antagonismos num sentido em que os pode manipular, (...) tanto material como ideologicamente (...)», retirando as consequências teóricas (e políticas) do postulado marcusiano: «(...) é como se uma suposta sociedade sem classes estivesse a emergir na sociedade de classes, como se os antigos antagonistas[6] estivessem agora num interesse na preservação e equilíbrio do status quo institucional» (Mattick, 1972).
A questão do fechamento do sistema revela, quanto a nós, dois tipos de insuficiências fundamentais. Em primeiro lugar, no que concerne à topografia espacial de uma formação social, Marcuse adopta uma posição de defesa de uma totalidade social estruturada em vários níveis de acção social (cultura, política, economia) equivalentes entre si, girando em torno do primado da tecnologia. Em nosso entender, partindo da dominância do campo económico numa formação social capitalista, há que percepcionar a hierarquização das instâncias sociais (Poulantzas, 1978), no sistema social global.
Num segundo nível de análise referente às coordenadas temporais de articulação das instâncias (ou dos campos), há que tomar em linha de conta o evidenciar do lugar da diferenciada «(...) periodização entre [por exemplo] as instâncias política e económica» (Poulantzas, 1978, p.238). Assim, poderemos perceber a autonomia relativa do campo político (face ao económico), porque se encontra marcado por diferentes ritmos e dinâmicas de funcionamento. Todo este depósito de postulados teóricos demonstra, por um lado, uma certa autonomia[7] da luta de classes política em relação à económica (e à tecnologia) e, por outro lado, a capacidade – em determinadas circunstâncias específicas como a simultaneidade de uma crise em várias instâncias ou níveis sociais – de romper o ciclo do fechamento.
De seguida, o pensador germânico, imbuído de uma dose substancial de pessimismo na possibilidade de delinear linhas diversificadas e complexas de libertar o ser humano do ciclo de valorização do capital, vai enunciar o que considera serem três das grandes transformações que estariam na base da repressão da mudança social[8] – processo que, como já vimos, está no cerne do fechamento do campo político.
A primeira grande transformação, para Marcuse, seria a evidência de que «a mecanização está a reduzir a quantidade e intensidade de energia física gasta sob a forma de trabalho» com efeitos importantes na «(...) incorporação [dos trabalhadores] na comunidade tecnológica da população administrada» (Marcuse, idem, p.26-28). Se a enunciação das causas são, em parte, correctas, a coincidência de posições entre as classes operárias e a burguesia, camufla a importância do trabalho vivo (o proletariado expandido) na produção de valor e o seu rebaixamento à condição de subordinado e prisioneiro da relação de exploração de trabalho não pago. Marx é quem, por seu lado, imprime uma crítica tenaz ao modo de produção capitalista e permite entrever a cisão entre a classe que vive da venda da sua força de trabalho e a classe que acumula capital: «o capital é trabalho morto [capital constante: a maquinaria acumulada posse da classe dominante] que apenas se anima, à maneira de um vampiro, pela sucção de trabalho vivo, e que vive tanto mais quanto mais dele sugar. O tempo durante o qual o operário trabalha é o tempo durante o qual o capitalista consome a força de trabalho por ele comprada» (Marx, 1990, p. 264). Sem grandes dúvidas, acaba-se por rejeitar a unidade e compromisso do proletariado com a burguesia, afirmando o seu antagonismo social de classe.
A transformação número dois diz respeito «(...) aos sectores-chave da indústria, aonde a força de trabalho de colarinho azul está em declínio em relação aos elementos de colarinho branco e o número de trabalhadores não produtivos aumenta» (Marcuse, idem, p.30). Mais uma vez, não estamos de acordo com Marcuse. Se é verdade que o operariado industrial da era fordista, da grande unidade fabril, diminuiu nos países do centro do sistema-mundo capitalista, ele não deixou de assumir proporções crescentemente significativas em zonas de periferias recém-industrializadas (México, Brasil, Índia, África do Sul, Europa de Leste). Em paralelo, o crescimento dos sectores de serviços não comprova o fim das classes trabalhadoras mas, pelo contrário, acentua a sua expansão na sociedade a sectores de actividade económica anteriormente não sujeitos a assalariamento. Ou seja, o número de indivíduos que têm de vender a sua capacidade física e intelectual para produzir unidades de valor de uso (com um determinado valor de troca incorporado), em troca de um salário a fim de subsistirem enquanto seres humanos tem aumentado.
Por outro lado, Marcuse não faz qualquer tipo de distinção no seio dos “colarinhos brancos”. A diferenciação entre os trabalhadores dos serviços não é efectuada o que leva a pôr no mesmo tabuleiro o executivo de uma multinacional (tarefa de gestão de uma empresa), a secretária que introduz dados num computador (tarefa não-manual, nada criativa, para além de ser monótona e repetitiva) ou o programador de software para um sistema informático de uma empresa (tarefa intelectual e criativa, produtora de conteúdos, se bem que imateriais).
A terceira grande transformação apontada por Marcuse é uma consequência da primeira e manifesta-se na «integração social e cultural das classes laboriosas na sociedade capitalista» (Marcuse, idem, p.32). Pensamos que já criticamos suficientemente esta visão do mundo – que resvala tendencionalmente para expressões canhestras que propugnam que, segundo a fina teoria de Marx, o «(...) homem não pertence a nenhuma classe, que nem sequer pertence à realidade, que pertence apenas ao céu da fantasmagoria filosófica» (Marx, 1975, p.93) – pelo que não nos vamos deter aqui.
A conclusão das três transformações recenseadas por Marcuse desemboca «(...) no enfraquecimento da posição negativa [de contestação e revolta] da classe operária, e não mais aparece como a contradição viva da sociedade estabelecida» (Marcuse, idem, p.35). Não somos apologistas de Marcuse mas importa assinalar a seguinte “separação de águas”. Marcuse rejeita o carácter revolucionário das classes dominadas, não porque, como hoje em dia determinados demagogos defendem que vivemos no “melhor dos mundos” e que isso da emancipação humana – como resultado do fim das sociedades de classes – é irrealista. Marcuse, pelo que lhe toca, vê a sua “recusa” de apalpar terrenos de superação da actualidade vigente porque «os escravos da civilização industrial são escravos sublimados» (Marcuse, idem, p.36), quer dizer, o autor considera que os dominados estão tão alienados (e por isso incorporados no sistema), que não se conseguem libertar das amarras do capitalismo.
Em contradição com Marcuse, Lukacs suporta a ideia que «na sua imediatidade [à superfície], a realidade objectiva do ser social é a “mesma” para o proletariado e para a burguesia. Mas isso não impede que, como consequência das diferentes posições que ocupam as duas classes no “mesmo” processo económico, venham a ser fundamentalmente diversas as categorias específicas da mediação [as estruturas sociais] por meio das quais a realidade puramente imediata se transforma para ambas na realidade objectivamente propriamente dita» (Lukacs citado por Frederico, 1997, p.169). Esta explanação de Lukacs pode ser descodificada da sua linguagem mais hermética e, a partir daí, podemos atender a uma importante distinção invocada entre a aparência – proletariado e burguesia supostamente em igualdade de circunstâncias sociais e económicas numa dada formação social – e a essência – tanto o proletariado como a burguesia têm pressupostos de visão e divisão do mundo opostos, derivados do seu diferenciado lugar que ocupam no espaço social, a vários níveis (relações de produção assentes no despojamento do operário do seu produto de trabalho; exclusão do controlo do poder de Estado; diferente acesso a bens culturais).
Após a identificação da repressão da mudança social, Marcuse volta-se para o questionar das perspectivas dessa repressão. Para isso, recorre ao esquema da base e da superestrutura de Marx – de forma unilateral como iremos observar mais à frente – de modo a realçar o constante reequilíbrio e unidade das sociedades industriais.
Na base material encontramos o progresso técnico, e os esforços do sistema social «(...) para se ver livre do excesso de capacidade, para criar a necessidade de se comprarem os bens que devem ser vendidos de forma lucrativa». As consequências desta forma de organização da base material vão ganhar forma na «total administração e total dependência na administração pelos regulamentos [o Estado] e a gestão privada [publicidade, mass media] que aumentam a harmonia pré-estabelecida entre o interesse das grandes corporações públicas e privadas, e o mesmo interesse dos consumidores e dos trabalhadores» (Marcuse, idem, p.38). Os limites desta concepção encontram-se em dois planos: 1) o já referido fechamento do sistema instilador de uma homogeneidade dos interesses opostos; 2) a articulação infra-estrutura (aqui reduzida ao aspecto tecnológico – forças produtivas – pondo de lado as relações sociais de produção) e superestrutura é mecânica, na medida em que esta «(...) não é um simples adorno expletivo; pelo contrário, é um componente fundamental do sistema, destinada a, no âmbito deste, desempenhar os papéis específicos e diversificados que constitutivamente lhe correspondem. É neste marco que a sua autonomia relativa se insinua (...)» (Moura, 1997, p.50) [itálicos da nossa autoria].
A subordinação do espaço social (homogéneo e indiferenciado no que à distribuição de poder e arranjos de hierarquia e funções diz respeito) à acção da máquina, acarreta efeitos de imutabilidade nas reciprocidades sociais – tónus da actividade humana.
Mesmo quando Marcuse se ocupa de indagar uma socialidade nova, não deixa de focar que «numa sociedade industrial livre e madura, esta continuaria a depender da divisão do trabalho com a toda a insolvência de desigualdade de funções» (Marcuse, idem, p.47). A toada repetitiva na cristalização e naturalização das sociedades industriais, no que à sua potencialidade de reconfiguração social diz respeito, significa, porventura, o pessimismo do autor em meados dos anos 60, quando confrontado com o recuo da radicalidade das organizações políticas das classes trabalhadoras (enleadas na procura da conciliação e institucionalização da movimentação sindical e partidária vis-à-vis ao Estado) e com a sucessiva vaga de derrotas do movimento operário face ao avanço mundial dos intricados e cada vez mais insidiosos mecanismos de submissão e /ou repressão do “mundo do trabalho” aos imperativos do lucro.
No que toca à análise das sociedades periféricas (ou subdesenvolvidas), Marcuse vai tecer considerações bastante dúbias e que são muito pouco contestatárias do pensamento liberal dominante. Dizemos isto porque quando o então professor na Universidade da Califórnia (São Diego) assinala que «(...) o terrível nível de vida [no Terceiro Mundo] demanda a mecanização e estandardização em massa da produção[9] e distribuição» (Marcuse, idem, p.50) [itálicos da nossa autoria]. Por outras palavras, Marcuse cai no eurocentrismo, porque herda «(...) certa percepção evolucionista que (...) propõe uma homogeneização do mundo que o capitalismo não pode realizar (...)» e, simultaneamente, não se consegue livrar da ganga do desenvolvimentismo típico da linha preconizada pela Conferência dos países não-alinhados de Bandung (1955), já que «nega-se a relacionar as características fundamentais do capitalismo realmente existente com a polarização centros/periferias» (Amin, 1999, p.82-83). O mesmo é dizer que omite o enjaulamento da periferia relativamente ao centro da economia-mundo capitalista, assente nos mecanismos da troca desigual, da dívida externa, no não acesso a tecnologia de ponta, no fechar das fronteiras do centro do sistema à entrada em massa de mão-de-obra imigrante, às guerras imperialistas de rapinas dos recursos naturais (Iraque, Afeganistão, etc.), à sustentação de Estados clientelares das potências centrais.
O Estado-Providência também é alvo da atenção da atenção de Marcuse. A sua análise vai centrar-se no «(...) contrabalançar dos poderes (...)» existentes no seio do próprio Estado. Apesar de apontar o seu «(...) padrão de administração da vida, de regulamentação sufocante e persistente das sociabilidades», o Estado-Providência é reconhecido, paradoxalmente, como o melhor possível para a humanidade nas sociedades industriais, porque a «(...) sociedade é um sistema com instituições em competição [Estado com a igreja; tribunais com o poder governamental] que, dada a sua amplitude de pluralismo, uma instituição pode proteger um indivíduo de outra» (Marcuse, idem, p.52-54). De facto, não se compreende como Marcuse define, por um lado, o Estado em termos basicamente correctos – pelo menos ao nível dos efeitos nefastos sobre os seus cidadãos – ao corroborar com o seguinte enunciado: « o Estado forma um tremendo corpo parasita que cobre como uma membrana o corpo da sociedade e lhe tapa todos os poros» (Marx citado por Thomas, 2003, p.60), para depois se socorrer do Estado para garantir as liberdades que... o próprio Estado é causa! Se é evidente que o Estado-Providência (ou do Bem-Estar) não comporta tendências tão exacerbadas de violência física e de uso da força[10] contra as classes dominadas como o Estado fascista, ele não deixa de impedir o controlo dos meios de trabalho e da vida por parte das classes que vivem da venda da sua força de trabalho. Isto porque o Estado, independentemente da forma que tomar, é o mais potente instrumento da desorganização política e ideológica do proletariado (Poulantzas, 1978). O Estado é determinante para o isolamento da luta proletária na esfera económica, a partir de reivindicações e palavras de ordem acerca de problemas imediatos, relegando, quando não desconsiderando completamente, a luta política contra o Estado, contra o centro de organização política da burguesia (ver ensaio V). A luta (económica) acaba por ser integrada nos limites do sistema, actuando como alavanca de regulação de conflitos sociais pelo Estado. Assim, Marcuse entra em contradição com o que avançou no início da sua obra, quando dizia que «a eleição livre dos mestres não vai abolir os mestres ou os escravos» (Marcuse, idem, p.10).
Estamos, com efeito, perante um autor radical que rejeita as consequências mais gravosas e indefensáveis da civilização capitalista, mas que recua perante a necessidade e possibilidade de superar [Aufhebung] o sistema social dominante na actualidade. Instado a problematizar «(...) no sentido de desenvolvimento de arregimentação do mercado, se a competição alivia ou intensifica a corrida por uma maior e mais rápida obsolescência dos bens produzidos; se os partidos políticos competem pela pacificação ou pelo incremento dos gastos militares (...)» (Marcuse, idem, p.55), o autor sucumbe, enredado numa tensão perene entre a crítica e a resignação: «a democracia parece ser o sistema mais eficiente de dominação» (Marcuse, idem, p.56). Quer dizer, o dito Estado “democrático” é responsável por uma série de atrocidades, mas dada a sua eficácia estrutural para reproduzir a produção de capital é assumido, por Herbert Marcuse, como insuperável!
Portanto, Marcuse tem noção do carácter intrinsecamente perverso do tipo capitalista de Estado, contudo, vê nele – prenúncio da vaga pós-modernista?; germes da Nova Esquerda, posteriormente institucionalizada e ligada à reprodução da ordem social? – o fim último das formas de organização política da humanidade.
No final deste capítulo, Marcuse avança com o desígnio da pacificação e unificação entre as duas superpotências da época – EUA e URSS – rumo a um governo mundial. Para além de a História não lhe ter dado razão – face à desagregação da União Soviética em 1991 – Marcuse “sonhava” com uma interpenetração utópica entre «(...) as sociedades capitalistas e as sociedades comunistas contemporâneas» (Marcuse, idem, p.57).
Ora, não podemos concordar com a classificação de senso comum atribuída à ex-URSS (e os países do Bloco de Leste) de país(es) comunista(s). O que encontrá(va)mos naqueles Estados do “socialismo real” era uma completa descaracterização do projecto comunista e mais não foram do que processos de instauração do modo de produção capitalista, com a diferença relativamente ao Ocidente associada ao papel atribuído ao Estado (em detrimento do mercado) para protagonizar a acumulação de capital. Instauração do capitalismo (de Estado) conseguida, ao longo de um extenso período de tempo, através de sucessivas derrotas das classes trabalhadoras. Estas, até meados dos anos 20, organizadas nos seus orgãos de poder operário – os conselhos operários[11] – foram vencidas pela acção das burocracias estatais que abafaram a sua capacidade de iniciativa. Não é por acaso que Staline, e a sua camarilha de tecnocratas, assassinaram grande parte dos revolucionários que protagonizaram a Revolução de Outubro.





































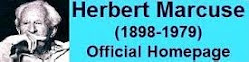






















Sem comentários:
Enviar um comentário